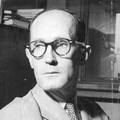[Opinião] Da promessa da soberania digital à realidade do aluguel tecnológico
Em artigo, os pesquisadores Anna Coli e Gabriel Avritzer, do Ieat, alertam para os riscos que o Brasil corre por não trilhar o caminho do desenvolvimento autônomo

O tema da soberania digital tem alcançado protagonismo com as recentes ameaças do governo Trump. O Brasil transformou seu perfil de investimento e, em vez de priorizar o desenvolvimento nacional de infraestrutura digital, optou, por meio de seus últimos governos, por comprar tecnologia pronta de empresas estrangeiras. Essa reorientação do orçamento público é retratada em relatório produzido pela UnB, USP e FGV. De 2014 até 2025, o Brasil gastou R$ 23 bilhões com licenciamento de softwares, serviços de nuvem e aplicações de segurança de empresas estrangeiras. Esse número foi crescendo exponencialmente ao longo dos últimos 11 anos até alcançar seu ápice em 2024, quando o gasto público -- contabilizando órgãos federais e estaduais -- chegou a R$ 10 bilhões, quase metade do total gasto em toda a série histórica.
Os números revelam a gravidade da situação: o Estado brasileiro prioriza a compra de serviços estrangeiros em detrimento do desenvolvimento de tecnologias nacionais. O mesmo valor aplicado em licenças de software, nuvens e segurança poderia construir 86 data centers, manter a UnB funcionando por 4,5 anos ou financiar todos os estudantes de pós-graduação no Brasil por um ano.
A relação que o país estabelece com as grandes corporações globais pode ser pensada nos termos de um “aluguel digital”: pagamos caro para utilizar uma infraestrutura que não nos pertence e, com isso, deixamos de investir estrategicamente no fortalecimento da autonomia tecnológica e na construção de nossas próprias capacidades nacionais.
Só a Microsoft recebeu R$ 3,27 bilhões no último ano, mas a maioria dos contratos é feita por meio de intermediários locais, como denuncia o relatório. Isso aumenta os custos, fragmenta o controle contratual e dificulta a compreensão do sistema que sustenta a infraestrutura digital.
A dependência tecnológica brasileira cria vulnerabilidades que, embora pareçam alarmistas, são, de fato, estruturais. Como observou um dos autores do relatório em entrevista ao The Intercept: “Se um botão for apertado no Vale do Silício, há políticas públicas que podem ser imediatamente interrompidas. Nossos dados públicos, sistemas e serviços digitais estão condicionados a contratos de aluguel digital".
A metáfora do “aluguel digital” pode soar catastrofista, mas captura uma dinâmica concreta: decisões unilaterais de corporações estrangeiras, pressões de suas jurisdições de origem (como sanções baseadas na Lei Magnitsky) ou mudanças em políticas corporativas podem afetar diretamente a continuidade dos serviços contratados pelo Estado brasileiro.
Embora uma intervenção desse tipo não seja literal como “apertar um botão”, a lógica contratual permanece a mesma. A imagem é didática na medida em que expõe o cerne da vulnerabilidade em questão: as grandes corporações tecnológicas que fornecem infraestrutura aos Estados nacionais operam sistematicamente fora do alcance regulatório desses mesmos Estados, fazendo de tudo para permanecer à margem das leis e normas que regulam os demais atores econômicos.
O projeto de dependência tecnológica
O Decreto 10.332, de 2020 (modificado em 2022), instituiu a Estratégia de Governo Digital 2020-2023, apresentada pela gestão Bolsonaro como marco modernizador destinado a reduzir custos e aprimorar os serviços públicos por meio da digitalização estatal. O plano definiu diretrizes para ampliar acesso, simplificar processos e elevar a qualidade dos serviços públicos digitais.
A metáfora do “aluguel digital” pode soar catastrofista, mas captura uma dinâmica concreta: decisões unilaterais de corporações estrangeiras, pressões de suas jurisdições de origem (como sanções baseadas na Lei Magnitsky) ou mudanças em políticas corporativas podem afetar diretamente a continuidade dos serviços contratados pelo Estado brasileiro.
Contudo, como demonstra o estudo de Rohde & Miguel (2023) sobre os laboratórios de inovação dessa iniciativa, as práticas rotuladas oficialmente como “inovação” já estavam em curso antes da Estratégia de Governo Digital. As primeiras experiências surgiram em universidades públicas, mas o caso mais emblemático foi o LABHacker, criado em 2013 por iniciativa da Câmara dos Deputados. Resultado da articulação entre parlamentares, instituições públicas e sociedade civil, o laboratório tinha o objetivo de aprimorar a gestão de dados públicos, antecedendo em sete anos a estratégia da gestão Bolsonaro. Seu principal produto, o Portal e-Democracia, ilustra a abordagem adotada anteriormente, que priorizava o desenvolvimento de plataformas gratuitas, de código aberto e voltadas à ampliação da participação cidadã nos processos legislativos.
E os softwares livres?
O Fórum de Software Livre (organizado pela ASL) — evento que recebia apoio do governo federal e se tornou um marco em Porto Alegre e no país — chegou ao fim em 2019, após 18 edições consecutivas. A principal razão para o encerramento foi a mudança nas políticas governamentais e a redução de apoio institucional, processo iniciado em 2016, durante o governo de Michel Temer. Com a vitória de Jair Bolsonaro em 2018, uma nova agenda foi implementada, e a política de substituição de software livre por soluções proprietárias foi acelerada em nível federal, inviabilizando de vez a continuidade do evento.
O governo digital “brazileiro”
O sistema digital gov.br tem origem no decreto nº 8.936, de 2016 (governo Temer), que criou a Plataforma de Cidadania Digital para unificar serviços públicos digitais. O projeto foi reformulado em 2019 pelo decreto nº 9.756 (governo Bolsonaro), que estabeleceu o atual portal gov.br com adesão obrigatória para todos os órgãos federais, sob gestão da Secretaria de Governo Digital, vinculada ao agora extinto Ministério da Economia.
O novo modelo instituiu o login único baseado no CPF como autenticação oficial e criou diretrizes para integração entre serviços. Para viabilizar a interoperabilidade, o governo adotou oficialmente a estratégia Cloud first, priorizando soluções em computação em nuvem sobre a infraestrutura local. Isso significou a institucionalização da prática de “alugar” espaços em servidores remotos de modo a tornar a integração dos serviços públicos digitais possível. Parece bom, certo? De fato seria, não fosse o inconveniente de que, para atender às novas diretrizes em tempo recorde, o governo federal teve que firmar contratos com provedores privados de nuvem pública como AWS (Amazon Web Services), Google Cloud e Huawei Cloud, sendo que a AWS já era utilizada desde 2018 por 26 órgãos federais.
Ainda na gestão Bolsonaro, em 2022, foi lançado no Brasil o Serpro Cloud One, que se apresenta como “a primeira nuvem privada de governo do país”, plataforma que se autodeclarou um marco na “construção da soberania digital nacional” do governo federal. Se a junção “nuvem privada de governo” não causou espanto, as informações a seguir deveriam causar: o Serpro utiliza serviços de nuvem e virtualização da VMware para sua plataforma Cloud One. A VMware é, por sua vez, uma empresa estadunidense, líder de tecnologias de virtualização e computação em nuvem. Trocando em miúdos: sob a carcaça de empresa nacional, o Serpro terceiriza o serviço que declara prestar ao governo federal.
Mas a natureza “brazileira” do Serpro não se revela à primeira vista. Além das acrobacias retóricas dos documentos oficiais, há toda uma cadeia de intermediação comercial que parece confundir as informações e tornar a questão nebulosa: o Serpro não compra os serviços da VMware diretamente. Ele adquire as tecnologias através de uma segunda empresa, a ScanSource, também estadunidense, que atua como distribuidora autorizada e muito provavelmente ainda lucra com suporte local e treinamento para implementação das tecnologias da VMware.
O diretor de operações do Serpro garante que é uma nuvem soberana, embora privada, porque os dados estão em “data centers de empresas públicas e serão geridos por técnicos do Estado brasileiro”. Desconsiderando momentaneamente as disputas sobre a propriedade dos dados em data centers — em que proprietários de estruturas físicas, fornecedores de tecnologia e demais intermediários disputam direitos sobre dados armazenados —, a pergunta central persiste: ter a gestão administrativa dos dados é suficiente para assegurar ao Estado sua soberania digital?
(Anna Luiza Coli, bolsista de pós-doutorado na Cátedra IEAT Darcy Ribeiro: Soberania, Educação e Política, e Gabriel Caetano Avritzer, graduando em Ciências Sociais na UFMG e bolsista de Iniciação Científica na Cátedra IEAT Darcy Ribeiro: Soberania, Educação e Política)